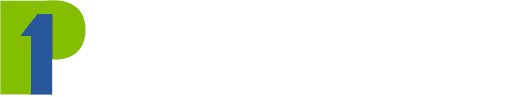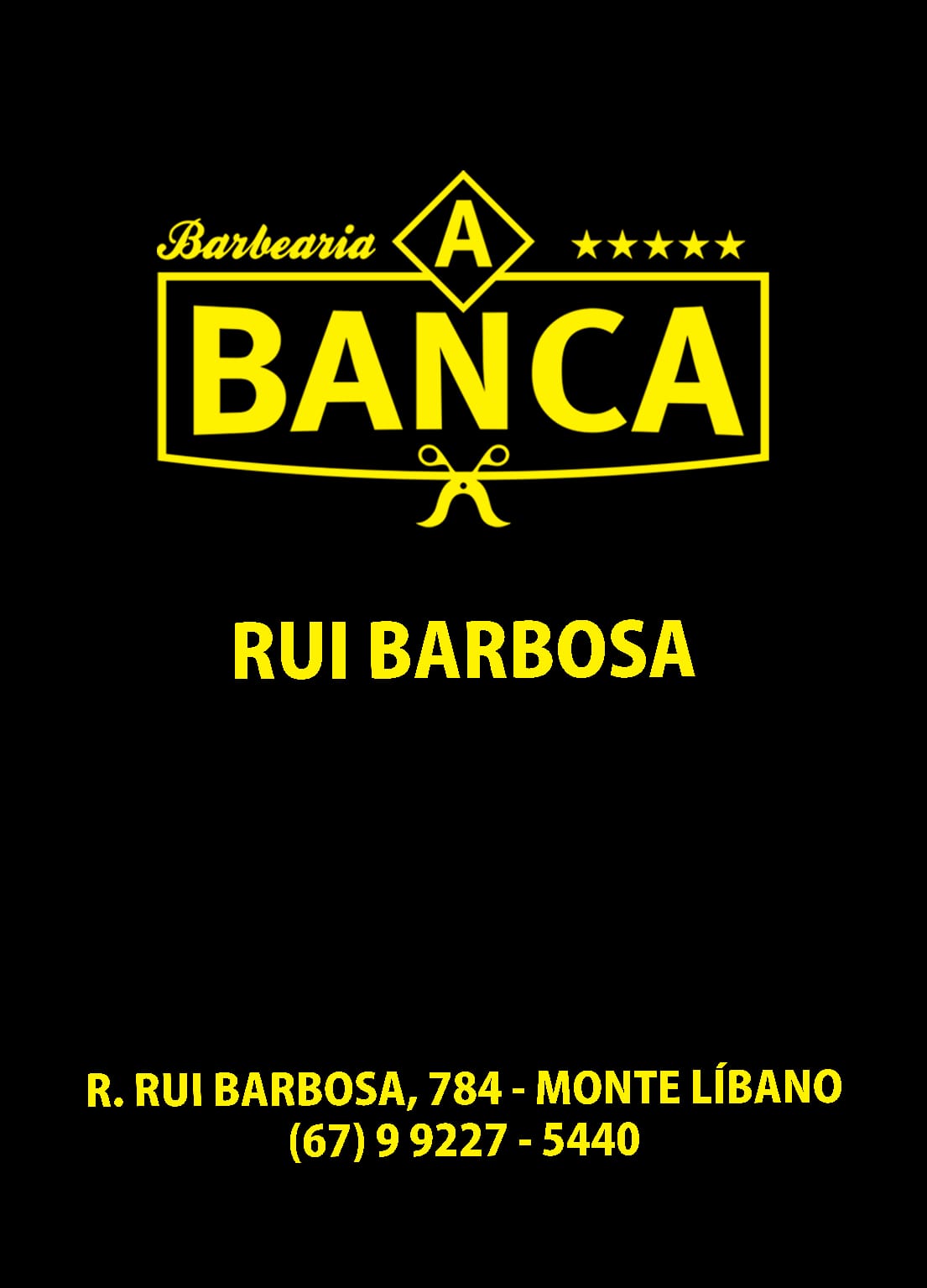A política do tarifaço que Donald Trump vem defendendo como peça-chave para trazer de volta a força industrial dos Estados Unidos está dando o que falar. Com discurso firme, promessas ousadas e uma postura combativa contra a China, o ex-presidente norte-americano coloca a questão como se fosse uma solução simples: taxar o que vem de fora e empurrar a economia pra dentro. Mas será que essa conta fecha?
Segundo professores e especialistas em economia política, a coisa não é tão direta quanto parece. O movimento de reindustrialização dos Estados Unidos precisaria de muito mais do que tarifas elevadas para se sustentar. Envolve uma reorganização profunda do papel do Estado, investimentos massivos em infraestrutura e tecnologia, além de uma base social e política coesa e isso, os analistas dizem que o país está longe de ter.
Edemilson Paraná, professor de sociologia econômica na LUT University, da Finlândia, foi direto: “Não há unidade política, nem projeto de Estado. Trump não tem um plano real de política industrial, nem coordenação para investimentos, nem controle sobre variáveis macroeconômicas como juros, câmbio e orçamento. Sem isso, não há reindustrialização que se sustente.”
A crítica é pesada, mas baseada em números. A participação dos Estados Unidos na produção industrial global caiu de 28,4% em 2001 para 17,4% em 2023, segundo dados da própria Casa Branca. A tendência de desindustrialização não começou com Trump, nem com Biden. Ela vem de décadas, desde os tempos de Ronald Reagan e sua política de desregulamentação que abriu espaço para a globalização e empurrou boa parte das fábricas para fora do país.
A questão é que o tarifaço, no curto prazo, pode até surtir algum efeito visível: aumenta a arrecadação, cria tensão internacional e obriga países a renegociar com os Estados Unidos em termos mais favoráveis. Mas isso não significa necessariamente que os empregos industriais vão voltar.
Pedro Paulo Zaluth Bastos, professor da Unicamp, é cauteloso ao falar dos impactos reais da medida. Ele lembra que a instabilidade da política econômica americana dificulta qualquer previsão de longo prazo. “Ninguém investe pesado sem previsibilidade. E com essa guerra de tarifas, as decisões ficam travadas”, afirma.
E mais: boa parte dos produtos taxados são bens que os Estados Unidos nem produzem mais — como frutas, legumes, roupas e até itens básicos do dia a dia. Resultado? Aumento de preços direto no bolso do consumidor. “Sessenta por cento das frutas e quarenta por cento dos legumes são importados. Isso vai bater na inflação e pode minar o apoio ao próprio Trump”, explica Bastos.
A situação piora quando se fala em setores como têxtil e semicondutores. A indústria têxtil foi praticamente desmontada nas últimas décadas e, com a expulsão de imigrantes, a mão de obra disponível e barata ficou escassa. E no caso dos chips, a dificuldade vai além da estrutura: falta gente qualificada. “Na China, há muito mais engenheiros do que nos Estados Unidos. Formar uma nova geração leva tempo, uns seis anos no mínimo”, completa o professor.
Mesmo assim, Edemilson Paraná admite que a jogada não é burra. Ele diz que Trump usa a força do mercado americano como isca. “É uma barganha. Ele sobe tarifas pra forçar outros países a negociar diretamente. E enquanto isso arrecada, porque o imposto entra no caixa. É uma forma de equilibrar o déficit fiscal sem aumentar impostos para os mais ricos.”
Outra cartada de Trump é a promessa de baratear o custo da energia com a expansão dos combustíveis fósseis. A ideia é tornar a produção interna mais atraente, mas isso também tem seus limites. “Reduzir imposto de empresa não significa que ela vai investir. Se não tiver demanda e crescimento, o dinheiro vai pra dividendos, não pra fábrica”, alerta Bastos.
Na cabeça de Trump, tudo isso seria passageiro. Um sacrifício momentâneo pra colher os frutos depois. A inflação inicial, segundo os defensores da proposta, seria compensada pela criação de empregos e aumento da produção. Mas entre a teoria e a prática existe um abismo chamado economia global.
Outra peça-chave do plano seria a desvalorização do dólar pra aumentar a competitividade das exportações. Só que, como explica Bastos, isso contraria os interesses de Wall Street. “Se o dólar cai muito, Wall Street perde poder no sistema financeiro internacional. E Trump não é contra os banqueiros. Pelo contrário.”
O problema é que os Estados Unidos vivem uma contradição estrutural. O dólar é a moeda mais poderosa do planeta, usada pra guardar riqueza e fazer comércio. Isso atrai investimento e sustenta o consumo interno em níveis altíssimos. Mas também prejudica a indústria, porque deixa os produtos americanos mais caros no mercado internacional.
Enquanto isso, a China faz o contrário. Planeja, controla variáveis como câmbio e salário, integra políticas industriais e avança nas tecnologias. “Os Estados Unidos quiseram que a China fosse só uma fábrica de bugigangas. Mas ela usou essa posição pra subir na cadeia de valor e hoje é referência em alta tecnologia”, comenta Edemilson.
No fim das contas, o plano de Trump esbarra num problema maior: o tempo. A economia dos Estados Unidos passou por mais de quarenta anos de desindustrialização. Nos anos 1970, um em cada cinco empregos era na indústria. Hoje, é um em doze. E esse caminho não se reverte do dia pra noite, nem com tarifaço.
A ideia de reindustrializar os Estados Unidos pode até parecer boa no discurso de campanha, mas, na prática, esbarra em entraves econômicos, sociais e políticos profundos. O tarifaço pode assustar parceiros, arrecadar impostos e provocar manchetes. Mas reverter um processo histórico exige muito mais do que isso. Precisa de projeto, de Estado, de gente, de tempo. E, acima de tudo, de vontade política real.
Se vai dar certo? O tempo dirá. Mas por enquanto, o que se vê é mais barulho do que transformação.
#tarifaco #donaldtrump #economiapolitica #estadosunidos #reindustrializacao #inflação #economiamundial #guerraeconomica #chinaeus #politicaindustrial #mercadoglobal #futurodoemprego